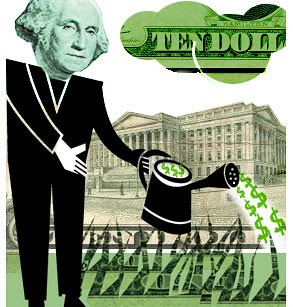A rua se transformou em um cenário de guerra. A fumaça e o barulho desorientadores das bombas de efeito moral se somavam aos estampidos produzidos por gatilhos a todo o momento acionados para liberar balas – de borracha, de plástico e até de chumbo. A visão era dificultada por outras bombas, de gás lacrimogêneo, e a entrada de um certo prédio público foi cercada de barreiras. De lá, saíam fortes jatos d´água apontados na direção de um carro de som. A perseguição se estendeu e dois veículos blindados, conhecidos como ‘caveirão’, avançaram por outras vias do centro do Rio de Janeiro. O noticiário chamou o acontecido naquela tarde de sol de 9 de fevereiro de “batalha”, palavra que originalmente remete ao combate militar entre dois exércitos inimigos. Na mira de todas essas armas, no entanto, não havia outro exército. Tampouco, de um ponto de vista republicano, as mulheres e homens, jovens e idosos que ali se agruparam deveriam ser encarados como ‘inimigos’. Mas assim foi feito. E, a partir do dia 15, quando a autorização para o envio da Força Nacional de Segurança Pública foi dada pelo governo federal, aqueles que defendiam a privatização da Companhia Estadual de Água e Esgoto (Cedae) se cercaram – literalmente – das condições necessárias para aprovar a medida. No dia 20 de fevereiro, com galerias vazias e cordão policial de 500 homens montado no entorno da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), os deputados autorizaram o governador Luiz Fernando Pezão (PMDB) a vender todas as ações da empresa.
Passado pouco mais de um mês, a água foi novamente objeto de disputa, mas de um tipo diferente. Uma década após as obras começarem e mais de cem anos depois de irromperem no imaginário político nacional como solução para as dificuldades trazidas pela terra árida e pelo clima seco que afetam a vida de gerações de nordestinos, a inauguração da transposição do rio São Francisco aconteceu. Ou melhor, inaugurações. No dia 10 de março, o presidente Michel Temer acompanhado de uma enxuta comitiva participou da cerimônia oficial de abertura do trecho que leva as águas do Velho Chico para Monteiro, na Paraíba. No dia 19, mulheres, homens, moços e velhos se aglomeraram na praça da cidadezinha para participar da inauguração extraoficial, que tinha no palanque os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. Fato histórico carregado de simbolismo, a transposição evidenciou a “batalha” travada no coração do poder nacional e regional que tem na mira 2018.
Cada qual a sua maneira, os dois eventos dizem muito sobre como o Brasil pensa e gere suas águas. Isso porque a transposição, feita em nome das pessoas, talvez não seja para elas. E a venda da Cedae, feita em nome da recuperação financeira do Rio de Janeiro, tem tudo para ser um tiro no pé. Os alertas são feitos por especialistas ouvidos pela Poli e têm como pano de fundo a mais ampla agenda de privatizações da infraestrutura pública de saneamento da história do país – que inclui desde companhias estaduais veteranas até a gestão dos recém-inaugurados canais da transposição do São Francisco – e prevê ainda mudanças no marco legal do setor. “Sob muitos pontos de vista e de diferentes formas, essas medidas vão acirrar os conflitos por água no Brasil”, afirma o engenheiro sanitarista Alexandre Pessoa, professor-pesquisador da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz).
A Cedae é a segunda maior empresa de saneamento do Brasil. Com 75 unidades de tratamento de água, 20 de tratamento de esgoto e uma rede de distribuição de 14 mil quilômetros que abastece aproximadamente 12 milhões de pessoas residentes em 64 dos 92 municípios do Rio, a estatal apresenta um histórico de lucros que geram dividendos ao governo fluminense. Até o terceiro trimestre de 2016, o lucro líquido – ou seja, o faturamento apurado depois do pagamento de impostos e taxas – foi de R$ 165 milhões. Em 2015, ano da crise hídrica, ficou em R$ 248,8 milhões. Em 2014, bateu recorde e alcançou R$ 460,3 milhões. Nos últimos dez anos, esse número ultrapassou R$ 2 bilhões.
Com um déficit orçamentário previsto em R$ 26 bilhões apenas em 2017, o governo do Rio decretou estado de calamidade financeira em junho do ano passado. O desastre das contas públicas nas gestões do PMDB fluminense abriu espaço para medidas excepcionais, como sucessivos atrasos no pagamento dos salários de servidores, aposentados e pensionistas. E também foi o pontapé inicial para um controverso processo de renegociação da dívida com a União.A privatização da Cedae foi apresentada pelo governo federal como exigência para socorrer o Rio. “Não há um plano B”, sentenciou o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, sobre o acordo firmado entre Pezão e Temer no dia 26 de janeiro. O documento traz uma longa lista de medidas que precisam ser cumpridas pelo governo fluminense para que este possa adiar o pagamento dos débitos com a União. Válido até 2019, o acordo projeta para o período um déficit que ultrapassa R$ 60 bilhões. Um número superlativo que, contudo, não chega nem perto do total de benefícios fiscais concedidos pelo PMDB do Rio ao setor privado que, segundo um relatório dos auditores da receita estadual, somou R$ 138 bi desde 2007, ano em que o ex-governador Sérgio Cabral assumiu o Executivo. O político está detido na penitenciária de Bangu desde novembro do ano passado. É acusado, dentre outras coisas, de integrar um esquema de propina em troca da concessão de benefícios fiscais.
Tendo por moldes tais números, personagens e circunstâncias, o acordo bilateral lançou as bases para que o governo federal estendesse as condições aceitas pelo Rio para o restante do país. Em 23 de fevereiro, o ministro da Fazenda enviou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei Complementar (PLC) 343, que instituiu o Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal. No texto, a privatização de estatais de saneamento, energia e bancos são contrapartidas exigidas pelo governo Temer para renegociar as dívidas dos entes federados. O PLC 343 estava pronto para ser votado no plenário da Câmara dos Deputados desde 29 de março, mas encontrou resistência dos partidos de oposição, de vários governadores e até de quem também decretou calamidade financeira em seu estado. É o caso de Minas Gerais.
“Por que a gente privatizaria empresas que estão bem e dando resultados, como a Cemig [energia elétrica], a Copasa [saneamento] e a Codemig [desenvolvimento]? O próprio caso da Cedae. O valor da Cedae mal cobre um mês da folha de pagamento do Rio de Janeiro. Vai privatizar para quê? A não ser que o governo federal assuma que isso não tem nada a ver com ajuste e que seja decisão ideológica”, declarou o governador mineiro, Fernando Pimentel (PT), em entrevista ao jornal Valor Econômico (02/03). “Podemos privatizar se isso for mais útil para a prestação de serviços”, continuou ele, arrematando: “Agora, sermos obrigados a privatizar?”.
Fechando a lista dos entes federados em estado de calamidade financeira está o Rio Grande do Sul. Por lá, o governador Ivo Sartori (PMDB) tem mantido posição ambígua. Assim como fez o Rio, enveredou por uma negociação bilateral com a equipe de Temer e, tal qual Pezão, foi presença assídua em Brasília durante as votações do PLC 343. Contudo, nem a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) nem o Banrisul, banco do estado – definidos como “joias da coroa” pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha – estão no rol das estatais que Sartori admite vender para renegociar sua dívida com a União, segundo a assessoria de imprensa do governo gaúcho informou à Poli no início de abril.
Contudo, com o pacote aprovado, Minas, Rio Grande do Sul ou qualquer estado que precise renegociar dívidas no futuro fica obrigado, por lei federal, a privatizar o saneamento. “Esse projeto vai abrir a porteira para eles fazerem o que bem entendem”, comenta Ary Girota, delegado sindical da Cedae, que, junto com outros trabalhadores da estatal, tentava influenciar deputados federais a barrarem o projeto. Até o fechamento desta reportagem, as perspectivas não eram as melhores. Depois de sucessivos adiamentos, o texto base, que incluía as privatizações no saneamento, foi aprovado pela Câmara em 10 de maio e as propostas que tentavam retirar esse tipo de contrapartida foram derrotadas. Agora, o texto segue para o Senado. O Regime de Recuperação Fiscal libera os estados de pagar o que devem à União por três anos, prorrogáveis por mais três, e prevê ajuda para renegociação de dívidas com bancos.
“O atual governo está radicalizando a proposta neoliberal. Para isso, faz chantagem com os estados, impõe como condição para renegociar as dívidas a privatização não só das companhias de saneamento, mas de quaisquer outras estatais que ainda existam. É um jogo pesado”, comenta o engenheiro Luiz Roberto Moraes, professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Considerado um dos maiores especialistas na área em atividade no país, ele completa: “Nunca houve um processo tão avassalador de privatização do saneamento no Brasil”.
As águas debaixo da Ponte
O veredicto decorre da constatação de que a agenda do governo federal não se limita à imposição de contrapartidas para renegociar as dívidas estaduais. Esse seria o polo negativo de um amplo espectro de medidas que, segundo seus proponentes, são necessárias para a retomada do crescimento econômico do país. O cerne desse pensamento está no documento ‘Uma Ponte para o Futuro’, lançado pelo PMDB no longínquo mês de outubro de 2015, que afirmava ser “fundamental” para o desenvolvimento brasileiro a execução de uma política “centrada na iniciativa privada, por meio de transferências de ativos que se fizerem necessárias, concessões amplas em todas as áreas de logística e infraestrutura, parcerias para complementar a oferta de serviços públicos”. No seu primeiro dia no Planalto, ainda como presidente interino, Michel Temer editou uma medida provisória que daria sustentação a esse processo, criando o Programa de Parcerias em Investimento (PPI). Aprovado pelo Congresso em setembro como lei (13.334), o PPI abarca concessões à iniciativa privada de aeroportos, rodovias, portos, ferrovias, mineração, energia. Em um país onde 95% do saneamento dos municípios é operado por empresas ou autarquias públicas, não foi exatamente uma surpresa que esse setor fosse um dos primeiros alvos da política de desestatização.
O saneamento básico é composto, no mínimo, por quatro componentes: abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo das águas pluviais e limpeza urbana. “Desses, os mais atraentes para o capital são o abastecimento de água e o esgotamento porque, tradicionalmente no Brasil, são serviços cobrados por meio de tarifas – e isso é visto como uma oportunidade de negócio. Então, a pressão do capital é permanente no sentido de abrir um novo mercado para si. E este governo não decepcionou: com o PPI inaugurou a maior investida da história brasileira para colocar o controle das companhias estaduais de saneamento na mão da iniciativa privada”, situa Moraes. Não que as empresas não atuem há muito tempo no saneamento, explica o professor da UFBA. “Mas isso acontecia na fabricação de materiais e equipamentos, na elaboração de projetos e das próprias obras de engenharia”, explica. Não por coincidência, as grandes empresas brasileiras do saneamento foram criadas como subsidiárias de empreiteiras como Odebrecht e OAS. “O saneamento básico passou a ser um novo ambiente de negócios em que além de executar a obra, a empresa ainda lucra operando aquele sistema”, diz.
Mas, acima de tudo, o saneamento se mostrou um bom negócio para empresas privadas – não só no Brasil como ao redor do mundo – devido a uma característica especial que o distingue de outros serviços, como a telefonia por exemplo. Isso porque o saneamento é um monopólio natural. Uma empresa de água e esgoto dispõe de uma infraestrutura capaz de realizar desde a captação no manancial, passando por barragens e adutoras que levam a água dali para as estações de tratamento. A água própria para consumo humano segue para reservatórios urbanos, de onde é bombeada pela rede de distribuição. Só aí chega na torneira das casas. Depois de usada, a água se mistura com resíduos e vira esgoto. “Você não tem duas, três redes de água e esgoto na mesma rua para poder escolher entre o serviço da empresa A, B ou C. Ficaria inviável economicamente, então você tem uma única tubulação e uma única empresa para operar aquilo ali. Na telefonia tem concorrência, você pode contratar diferentes empresas, mas no saneamento o usuário não tem opção”, explica Moraes.
A captação via rede específica, o tratamento e a disposição adequada do esgoto são considerados calcanhares de Aquiles do país que, de resto, ainda não universalizou o abastecimento de água. Segundo dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) referentes a 2015, apenas metade dos brasileiros têm acesso à coleta de esgoto, enquanto 83,3% são abastecidos de água. Essas estatísticas são o principal trunfo do governo e dos empresários, que argumentam que o setor público falhou na universalização dos serviços e está na hora de o setor privado assumir sua prestação. Além das alegações mais gerais de ineficiência da gestão pública, a defesa da privatização do saneamento se sustenta na crise econômica, uma vez que nem estados, nem o próprio nível federal teriam condições de investir na expansão e melhoria dos serviços na atual conjuntura.
E, assim, o círculo se fecha, na avaliação dos especialistas ouvidos pela Poli. Se a renegociação das dívidas se baseia em uma imposição às claras, o PPI tem um caráter mais sofisticado ao induzir as parcerias com o setor privado como único caminho para viabilizar o aporte de recursos para o saneamento. A questão, pondera Moraes, é que no caso do PPI os recursos imediatamente aportados são públicos e não privados.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é o braço operacional do PPI. De lá sai o financiamento de até 80% do montante total que a iniciativa privada irá ‘investir’. Os empréstimos feitos a juros subsidiados podem ser pagos num prazo de até 20 anos. “Sistemas de água e esgoto exigem altos custos de implantação que, historicamente, em todos os países do mundo, foram providos pelo Estado. Se o Estado brasileiro banca 80% do investimento, qual a justificativa para a entrada do setor privado?”, questiona Moraes, que define o modelo em voga no Brasil como “capitalismo sem riscos”: “O ‘parceiro’ privado acaba usufruindo bastante dos recursos públicos através de linhas de crédito a juros baixíssimos, aumentando a sua mais-valia, se apropriando, então, desses recursos. E uma vez no exercício da exploração dos serviços públicos de água e esgoto, ele praticamente determina o que vai ser feito, quando vai ser feito, como vai ser feito, para quem vai prestar o serviço, para onde se vai expandir. Entre uma população de baixa renda na periferia e uma população de renda média e alta, o ‘parceiro’ privado prefere a segunda, que tem uma maior capacidade de pagamento”.
Em outubro do ano passado, a adesão ao PPI foi formalizada pelos governadores de 18 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Tocantins, Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro (que foi o primeiro a entrar no Programa e também o primeiro a sair dele por motivos que até hoje não estão muito claros). De lá para cá, o BNDES se empenhou na abertura de editais de licitação para contratar consultorias privadas que farão o diagnóstico da situação de cada estado. Desses estudos saem o que o Banco chama de ‘modelos de parcerias’. Hoje, o controle das estatais de saneamento pode passar para a iniciativa privada de diferentes formas: concessão plena, concessão parcial, parceria público-privada, venda de ativos e até a pouco conhecida alocação de ativos, quando, por exemplo, uma empresa privada toma emprestado dinheiro público para construir uma estação de tratamento de água e esgoto e arrenda depois essa estrutura para a companhia estadual, como se fosse um aluguel.
O Banco tem demonstrado velocidade na contratação das consultorias. Os pregões do primeiro lote que reuniu seis estados – Amapá, Alagoas, Maranhão, Pará, Pernambuco e Sergipe – foram realizados em março. Os preparativos para os pregões do segundo lote – formado por Acre, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Santa Catarina – tinham começado naquele mês. Os processos de Amazonas, Bahia, Paraná, Piauí e Tocantins ainda estavam em preparo. O único estado que não seguia o trâmite foi Rondônia, que preferiu contratar uma consultoria por conta própria.
Os recursos públicos disponibilizados para a contratação dessas empresas poderiam ser usados para financiar o planejamento do setor público, defende Moraes. Segundo ele, um plano municipal de saneamento básico custa em média R$ 300 mil. O plano cumpre o papel de fazer o diagnóstico da situação e a projeção de como alcançar metas futuras de ampliação da cobertura e é feito com participação da população. Nos cálculos do professor se os R$ 19,2 milhões direcionados pelo BNDES para contratar a consultoria de Alagoas, por exemplo, fossem usados para financiar planos municipais, 64 das 102 cidades do estado poderiam ser atendidas. Em Sergipe, 50 de 72 cidades poderiam financiar seus planos. “Eu peguei o volume de recursos para os seis estados do primeiro lote e concluí que daria para fazer plano para 382 municípios com o mesmo valor. Quando um prefeito bate na porta do governo federal pedindo recursos para elaborar seu plano, o governo fala que não tem dinheiro. Estamos demonstrando que existe, sim, dinheiro mas que a opção política é financiar a privatização”, sentencia.
A previsão do BNDES é que os primeiros leilões dos serviços de saneamento ocorram no começo de 2018. O otimismo pode ser infundado, já que entre aderir ao PPI e fazer os leilões vai um longo caminho. “É preciso acreditar que todos os governadores vão conseguir aprovar leis autorizando nas respectivas assembleias legislativas. E que nem os municípios, nem a sociedade civil vão reagir”, diz Moraes.
Na Paraíba, a mobilização fez o governador mudar de ideia. O estado protagonizou em abril a segunda baixa do PPI de uma maneira, digamos, peremptória. “Como demonstra a história recente, dadas, sobretudo, as desigualdades socioeconômicas e regionais já crônicas em nosso país, as políticas irrefletidas de privatização de serviços básicos tendem a oferecer falso e momentâneo alívio financeiro aos entes públicos e a promover efeitos colaterais pelos quais o próprio Estado é responsabilizado. Assim, não é raro ocorrer em seguida a privatizações restrições de acesso a bens de interesse social, além de uma desequilibrada busca pelo lucro, o que penaliza a população como um todo”, afirmou o governador Ricardo Coutinho (PSB) em uma carta aberta endereçada aos cidadãos da Paraíba.
No texto, ele argumenta que a Companhia de Água e Esgotos (Cagepa) teve superávit de R$ 20 milhões em 2016, mas acrescenta que a importância da estatal não se resume aos valores da arrecadação obtida. “A Cagepa não visa ao lucro; embora tenha a obrigação de ser equilibrada financeiramente. Sua função é a de prestar serviços públicos acessíveis e de qualidade quanto ao abastecimento de água e ao tratamento sanitário para toda a população. A relevância de seu superávit está no fato de que – mesmo num quadro de gravíssima estiagem, com 45 municípios em absoluto colapso hídrico e muitos outros em regime de racionamento – ele revela a sustentabilidade e a eficácia da empresa, desde que o governo promova as garantias e as adaptações gerenciais necessárias”.
Em Sergipe, parlamentares de vários partidos realizaram uma audiência pública em março que foi considerada a maior da história da Assembleia Legislativa do estado com mais de mil participantes que se espremeram dentro e até do lado de fora do prédio. Como desdobramento, outra audiência foi feita pela seção regional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que chamou os senadores e deputados federais de Sergipe, além de organizações da sociedade civil. O resultado do encontro foi uma posição contrária à privatização da Companhia de Saneamento (Deso). “Lá em Sergipe está havendo uma reação à altura do movimento social, do movimento sindical, do movimento popular, do movimento ambientalista, das diferentes igrejas contra a privatização da Deso. Se não houver uma pressão social grande em cada um dos estados, acontece o que aconteceu no Rio de Janeiro”, alerta Moraes.
Cedae: vitrine e vidraça
O Rio de Janeiro foi pioneiro na implantação do saneamento no Brasil. O sistema de captação de água e tratamento de esgotos da cidade foi feito ainda no período imperial pela City, uma empresa inglesa privada. “Essa empresa perdeu a concessão exatamente porque não cumpriu as cláusulas contratuais de expansão e de qualidade, então nada disso é novidade. Faz parte da história do saneamento”, afirma Alexandre Pessoa, professor-pesquisador da EPSJV/Fiocruz. De lá para cá, diversos governos tentaram privatizar o saneamento. “Por que isso não ocorreu? Há um histórico de resistência da população à privatização desses serviços por entender que uma consequência inevitável é o aumento tarifário, já que se trata de um monopólio natural”, retoma o engenheiro. “As tentativas de privatização da Cedae começaram na década de 1990 com o governo Marcelo Alencar [PMDB], que vendeu diversas estatais. Não tiveram êxito com a Cedae. Naquele momento, a população tinha clara a importância de uma empresa de saneamento que, mesmo com problemas, é pública e tem como única função atender a população e não os acionistas”, contextualiza, por sua vez, Ary Girota, delegado sindical da estatal.
Desta vez, no entanto, a reação popular à privatização não veio no tom esperado. As respostas para isso são muitas. Na opinião de Girota, depois de várias tentativas frustradas de privatização direta nos governos Garotinho, Rosinha e Cabral, a Cedae sofreu uma espécie de privatização por dentro, e passou a ser administrada sob uma lógica distanciada de sua missão. “Esses governos fizeram a expansão do sistema de água, mas a parte de tratamento de esgoto não acompanhou porque há um discurso interno de que esgoto dá prejuízo e, sob essa alegação, a Cedae abriu mão de operar sistemas de esgoto em vários locais. Com isso, esse braço da empresa foi sendo sucateado, foram deixando de investir, foram deixando cair a qualidade do serviço. Só que isso afeta diretamente a população, que não quer ter esgoto na porta de casa. E não há uma justificativa técnica para não se ter um investimento ao menos paritário entre água e esgoto. É uma opção política sucatear esse sistema para justificar a entrega, algo que não foi percebido, inclusive, pelas entidades sindicais, e que está sendo explorado hoje para defender a privatização”, avalia.
Contudo, o que sobressai quando se olha o cenário em que se aprovou a privatização da Cedae é a tentativa deliberada do governo de afastar a sociedade do debate. O projeto de lei 2.345 chegou no dia 3 de fevereiro à Alerj. Nele, o governador Luiz Fernando Pezão pedia a autorização do legislativo para privatizar a estatal e, antes mesmo de a venda se concretizar, captar um empréstimo de R$ 3,5 bilhões dando como garantia as ações da empresa. Nenhuma audiência pública sobre o tema foi realizada. Toda a discussão se deu com a Assembleia Legislativa do Rio protegida por uma espécie de barricada. As galerias do plenário foram fechadas ao público. Além disso, não houve discussão no próprio legislativo. A mesa diretora da Alerj havia divulgado um calendário em que os ritos da votação levariam quatro dias. Até porque os parlamentares apresentaram nada menos do que 211 emendas ao projeto. Mas elas foram rejeitadas em bloco pelos deputados da base do governo e o projeto acabou sendo votado em pouco mais de 40 minutos no próprio dia 20. Dos 69 deputados presentes na sessão, 41 foram a favor e 28 contra.
A votação relâmpago causou surpresa e revolta entre os manifestantes contrários à privatização. A “batalha” entre militares e civis se repetiu. Os trabalhadores improvisaram uma caminhada da Alerj até a sede da Cedae. Ao longo do trajeto, de cerca de três quilômetros, banheiros químicos instalados no centro do Rio para o Carnaval foram depredados. A resposta policial se deu com tiros e bombas. Diversas pessoas ficaram feridas e 24 foram detidas. “A repressão policial durante todo o processo foi muito violenta, desproporcional. Mobilizar as pessoas, e os próprios trabalhadores, não foi uma tarefa fácil”, diz Girota, que continua: “Na verdade, o que nós tivemos ao longo do processo de autorização da privatização da Cedae foi um Estado de exceção. Ficou muito claro nos dias dos atos. A cidade do Rio de Janeiro foi tomada por tropas federais para garantir a privatização. Não foi só a Força Nacional que veio, estiveram de prontidão também o Exército e os fuzileiros navais. E a PM fez o trabalho de repressão. Nós fomos colocados contra a parede – não só os trabalhadores como toda a população fluminense – como se estivéssemos defendendo uma ilegalidade e não o contrário. Foram eles que atropelaram o processo democrático, conduziram esse processo de uma maneira totalmente autoritária e cedendo aos interesses do Temer, que é o grande capitão desse processo todo. Estão entregando tudo e a Cedae é um desses componentes”.
A lei 7.529, que permite a privatização da Cedae, foi sancionada por Pezão no dia 7 de março. A partir daí, o governo tem seis meses, prorrogáveis por mais seis, para contratar bancos federais para estruturar o modelo de venda da companhia. Segundo o deputado Marcelo Freixo (Psol), a empresa vale entre R$ 10 e R$ 14 bilhões. Nos bastidores, ainda segundo ele, membros do governo afirmam que a negociação seria de cerca de R$ 4 bilhões, valor considerado irrisório já que a receita operacional da Cedae em 2015 foi de R$ 4,47 bilhões.
Nas apostas do mercado de quem pode levar a Cedae os mais cotados são Brookfield, Águas do Brasil e Aegea Saneamento. Uma análise detida sobre os três já revela muito da atual dinâmica empresarial em torno da água. Se o mercado brasileiro por muito tempo foi dominado pelas empreiteiras, com a Operação Lava Jato o cenário apresenta um mix cada vez mais transnacional. O comprador mais cotado é um fundo canadense (Brookfield) que em outubro do ano passado arrematou 70% da Odebrecht Ambiental por R$ 2,5 bilhões. Também está no páreo a Águas do Brasil – que opera os serviços em Niterói e Petrópolis – tem entre suas principais acionistas as construtoras Carioca Engenharia e Queiroz Galvão. Já a Aegea, outra forte candidata, é um caso à parte. A empresa tem como sócios um grupo brasileiro, o fundo soberano de Cingapura e a International Finance Corporation (IFC), instituição do Banco Mundial criada para apoiar o setor privado nos países em desenvolvimento. Procurado pela Poli, o escritório do Banco Mundial no Brasil informou que, em 2012, a IFC concedeu um empréstimo à Aegea para ajudá-la em sua expansão pelo país, inclusive nas regiões Norte e Nordeste e que, desde então, a IFC e o Fundo Global de Infraestrutura da IFC injetaram mais de US$ 84 milhões por meio de empréstimos e de investimentos em participação acionária na empresa.
Os movimentos internacionais contrários à privatização do saneamento têm feito cobranças públicas ao Banco Mundial por conta da atuação da IFC. Historicamente, o organismo financeiro foi acusado de conceder empréstimos a países dando como contrapartida a privatização dos serviços. No debate brasileiro recente, um argumento usado com frequência por entidades que lutam contra as privatizações é o de que o Banco Mundial defendeu no passado a privatização, mas agora reviu esse posicionamento. Thadeu Abicalil, especialista de água e saneamento do Banco no país, esclarece que, para a instituição, não importa a natureza jurídica da prestação do serviço. “Desde que seja prestado de forma eficiente e equânime, chegue aos mais pobres. Esse é o ponto que a gente sempre quer passar, seja público ou privado”. E acrescenta: “No Brasil, nós estamos, no Banco Mundial, bastante convencidos de que o setor público sozinho não será capaz de alcançar esse nível de investimento nessa infraestrutura, precisará de parceria”.
Alexandre Pessoa acredita que, tendo como pano de fundo a falência do estado, se criou uma grande oportunidade para privatizar sem os ‘embaraços’ democráticos, como o espaço para o contraditório. “Não lembro de ter visto uma lógica tão perversa porque ela interdita qualquer debate sobre a concepção do saneamento, sobre o que realmente deve ser discutido como objetivo do saneamento: a saúde pública. Esses aspectos, que já foram discutidos no passado, não entraram na pauta desta vez porque o processo está envolto em uma aura de chantagem”, avalia o engenheiro sanitarista. Ele lembra que em 2010, a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou a água limpa e segura e o saneamento como direitos humanos essenciais. “Garantir direitos essenciais é uma função do Estado, estamos falando em serviços de natureza pública em que há um claro conflito de interesses. A lógica da rentabilidade se choca com a necessidade de atender a uma demanda reprimida não só de expansão do sistema de saneamento mas também da qualidade desse atendimento”.
Trabalhadores, movimentos sociais e partidos da oposição se uniram num esforço póstumo de tentar barrar a privatização da Cedae. Na esfera judicial, a sorte foi lançada no dia 29 de março, quando chegou ao STF uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) que questiona a validade do rito legislativo que autorizou a privatização da estatal. Os partidos Psol e Rede – autores da Adin – argumentam que a aprovação feriu o princípio da deliberação suficiente. Entre os argumentos, eles citam que nenhum dos 64 municípios que serão afetados pela decisão foram consultados e que um tema estratégico não deveria ter sido submetido ao regime de urgência.
“Alterações profundas no regime jurídico da prestação dos serviços públicos de água e esgoto não podem ser feitas com fundamento apenas em preocupações de caráter orçamentário”, diz o texto da Adin, que continua: “Não houve no curso do processo legislativo qualquer exame sério quanto à aptidão de a Cedae prestar adequadamente os serviços públicos de distribuição de água e de esgotamento sanitário após a privatização. Desconsiderou-se, por completo, a experiência internacional recente, que tem demonstrado que as empresas privadas tendem a maximizar a sua margem de lucro, dando preferência aos investimentos em áreas com melhor retorno financeiro, em detrimento do atendimento de toda a população”. O texto se refere às 235 cidades que, desde 2000, retomaram a gestão do tratamento e fornecimento de água das mãos de empresas privadas. A lista inclui grandes capitais como Berlim, Buenos Aires e Paris, onde as duas maiores empresas privadas de água do mundo – as francesas Suez e Veolia – foram dispensadas pela prefeitura. Dentre as razões que levaram às reestatizações, estão investimento insuficiente, descumprimento de metas contratuais, aumento nas tarifas, pouca transparência e políticas de exclusão de populações mais pobres.
Além da Adin, uma proposta de plebiscito foi assinada por oito lideranças partidárias na Alerj. O projeto está na mesa do presidente da Assembleia. A proposta que tem mais chances de vingar vem do legislativo da capital. O vereador Renato Cinco (Psol) planeja a realização de uma assembleia popular para debater a privatização da Cedae no mês de junho. Contudo, até agora, a única dor de cabeça infligida ao governo estadual não veio dessas iniciativas, mas do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), que anunciou que poderia criar uma empresa municipal de água e esgoto. “A Cedae só existe devido a dois Rios: o Rio Guandu, que fornece a água, e o Rio de Janeiro, que é o maior cliente”, disse em fevereiro. Questionada pela Poli se mantém a ideia de criar a companhia, a prefeitura do Rio enviou nota afirmando que “defende que o município seja ouvido no processo de privatização da Cedae, uma vez que a cidade é responsável pela maior parte do faturamento da companhia” pois “é necessário saber quais benefícios esta transação trará”.
As companhias estaduais de saneamento funcionam com subsídio cruzado: os superávits das cidades maiores tampam os déficits dos municípios menores ou onde a implantação do serviço foi muito cara. Esse equilíbrio é o que permite a empresa atuar em um número maior de cidades. “Se o Crivella endurece e toma o Rio ele quebra a Cedae porque o que sobra não é o suficiente para fazê-la funcionar”, diz Luiz Roberto Moraes. A capital responde por 87% da receita da Cedae. O engenheiro explica que a Constituição diz que cabe ao município a atribuição de organizar e prestar diretamente o serviço de saneamento ou conceder a terceiros essa prestação. “Os municípios são os titulares, os donos do serviço. A Cedae é uma simples prestadora. E como dono, o município pode endurecer, não dar autorização, gerar conflito”. De acordo com Moraes, a pressão agora deve ser feita localmente porque para a privatização vingar será necessária a autorização das câmaras de vereadores. “Eles vão tentar cooptar os prefeitos, os vereadores, mas se a sociedade reagir eu acho que muita água pode rolar daqui para frente”.
Velho Chico, novos problemas
Nem mesmo a transposição do rio São Francisco ficou incólume à agenda de privatizações do governo federal. Desde outubro do ano passado, o Ministério da Integração Nacional noticia a intenção de criar parcerias público-privadas para a gestão dos canais que levarão as águas do Velho Chico para o semiárido nordestino. Em nota enviada à Poli, a pasta afirmou que já havia solicitado ao BNDES “estudos de viabilidade de parceria com ente privado para operação e manutenção dos canais” e acrescentou que havia recebido, por sua vez, uma solicitação da Secretaria Especial do PPI (que tem status de ministério) para prestar informações sobre o Projeto de Integração do Rio São Francisco, nome oficial das obras de transposição.
Com 477 quilômetros de extensão em dois eixos de transferência de água, o empreendimento promete abastecer 12 milhões de pessoas em 390 municípios nos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. O Eixo Norte vai do município de Cabrobó (PE) até Cajazeiras (PB), mede 260 quilômetros e, segundo o governo federal, deve ficar pronto no segundo semestre. No dia 10 de março, uma parte do Eixo Leste foi inaugurado. Com 217 quilômetros, o canal vai de Floresta (PE) até Monteiro (PB). As obras começaram em 2007, no segundo mandato do presidente Lula, com previsão de conclusão em 2012, já no governo Dilma Rousseff, que foi afastada do Planalto com aproximadamente 90% dos canais concluídos.
“Atualmente, a Codevasf [Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco] é a responsável pela gestão dessas águas. Mas isso ficou muito tempo indefinido e até hoje não há nenhum desenho de como seria essa gestão. Agora entra a discussão da privatização das águas da transposição. Com isso, você acha que essas águas vão para quem? Para acabar com a sede da população do Nordeste é que não”, avalia o engenheiro André Monteiro, do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães (CPqAM/Fiocruz Pernambuco).
Segundo o pesquisador, que se dedica a estudar os conflitos por água decorrentes das obras da transposição, o acesso à água no semiárido historicamente se baseou na concentração do recurso natural na mão de poucos e poderosos. A região tem 70% da sua geologia cristalina, ou seja, as rochas que dão origem ao solo estão praticamente na superfície. Quando chove, pouca água se infiltra no subsolo e há um escoamento muito intenso. Desde o Império, a estratégia foi tentar ‘segurar’ a água que escoava pelo solo através do represamento. Os grandes açudes construídos pelo poder público ou eram instalados dentro das terras de fazendeiros ou, depois de prontos, eram apropriadas por eles. A promessa do fim da sede foi, desde sempre, o motor da chamada ‘indústria da seca’ – um dos sustentáculos do coronelismo.
“Hoje a transposição é fato consumado. E a grande questão – tornada invisível de propósito – continua sendo discutir os projetos em disputa. Essa água vai para onde e será usada para qual fim? A vazão disponível será suficiente para tudo?”, questiona Monteiro. Segundo ele, uma pista foi dada pela Federação das Indústrias da Paraíba. Em fevereiro, a entidade promoveu um seminário sobre “gestão estratégica das águas”. O caso de ‘sucesso’ apresentado no evento foi a transposição do rio Colorado, nos Estados Unidos. Feita entre as décadas de 1930 e 1950, a obra serviu como impulso para a expansão da fronteira agrícola na região, que concentra grandes latifúndios monocultores. “A Federação deixou claro que está se articulando para transformar o semiárido num Colorado. É um projeto que tem tudo para conjugar concentração de água, de terra e de poder”, alerta o pesquisador.
Uma parte da conclusão de que a transposição do São Francisco é uma obra feita principalmente para atender a interesses econômicos se deve ao histórico do projeto. Sempre que entrevistado, o engenheiro João Suassuna, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), retoma o ano de 2004, quando os debates estimulados pelo governo Lula levaram a recomendações técnicas que desagradaram Brasília. “O presidente queria saber como o São Francisco poderia contribuir para solucionar o problema de abastecimento de água no semiárido nordestino. Quarenta expoentes da hidrologia nacional passaram três dias em Recife em um evento que a SBPC [Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência] promoveu para discutir a transposição. Dessa reunião saiu uma proposta: o governo deveria investir na construção de uma infraestrutura que integrasse as diversas represas e açudes que existem no interior do Nordeste. Essa proposta considerava o São Francisco como uma fonte de abastecimento complementar e a transposição como uma decisão que deveria ser tomada somente após a conclusão dessas obras, quando haveria uma nova avaliação do déficit de água na região”, conta.
Isso porque, desde aquela época, já se sabia que o São Francisco tinha limitações hídricas. O máximo de vazão que o projeto pode fornecer são 127m3/s, que podem ser retirados quando a represa de Sobradinho estiver com 94% do seu volume preenchido. “Mas a cada dez anos, Sobradinho enche apenas quatro. Investiram até agora R$ 10 bilhões em um projeto que irá funcionar em sua plenitude 40% do tempo. É muito pouco”, constata Suassuna. A transposição hoje está retirando do rio 26,4 m3/s. E a situação se agravou: Sobradinho está com 15% do seu volume preenchido quando no final de abril, mês em que se encerra o período chuvoso, esse volume precisa ser de 60% no mínimo. Segundo o pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, a perspectiva é que Sobradinho atinja seu volume morto no final de novembro.
Esses números estavam no centro do diagnóstico do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco (CBHSF). Os comitês de bacia são organismos colegiados em que representantes do governo, dos usuários e da sociedade civil arbitram conflitos pelo uso da água, dentre outras prerrogativas. Em 2004, o CBHSF impôs uma condição para aprovar a obra: que as águas da transposição fossem destinadas somente para o abastecimento humano e dessedentação animal – usos prioritários de acordo com a Lei de Águas. “Infelizmente essa deliberação foi literalmente tratorada no âmbito do Sistema Nacional dos Recursos Hídricos e aprovada no estilo do rolo compressor pelo governo à época, ameaçando reproduzir novo elefante branco em nossa megalômana cultura de grandes e problemáticas obras”, critica Anivaldo Miranda, atual presidente do Comitê, onde representa a ONG Instituto Ecoengenho. Ele informou que também em relação à decisão de privatizar a gestão dos canais o CBHSF não foi consultado.
“Quando as discussões começaram e o governo federal viu que a água da transposição ia ser usada apenas para abastecimento humano e dessedentação animal, levou o plano para análise em Brasília. Para surpresa de todos, o parecer voltou nos seguintes termos: o governo não aceitava apenas esses usos e aquela discussão não deveria ser feita no âmbito do Comitê de Bacia mas pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos onde, não por acaso, o governo tem a maioria dos assentos. E assim passou o projeto da transposição incluindo o uso para o agronegócio”, conta Suassuna.Outro órgão que faz parte dessa história é a Agência Nacional de Águas (ANA). João Suassuna conta que partiu de lá uma proposta em sintonia com o que já tinha sido sugerido pela SBPC. O Atlas Nordeste de Abastecimento Urbano de Água, de 2006, mapeou várias fontes hídricas e propôs que se fizesse sua interligação. “Essa alternativa tinha uma abrangência de 34 milhões de pessoas. Já a proposta da transposição visa o abastecimento de 12 milhões. A proposta da ANA custava, em 2006, R$ 3,3 bilhões. A transposição naquela época custava o dobro – R$ 6,6 bilhões –, valor que hoje bate os R$ 10 bilhões. Quando essas propostas foram apresentadas ao PAC [Programa de Aceleração do Crescimento] para buscar financiamento venceu a proposta mais cara, a que atinge menos pessoas. A gente lamenta – e lamenta muito – porque, visivelmente, a transposição do São Francisco não foi feita para abastecer populações”, diz o engenheiro.
Especialista em convivência com o semiárido, Suassuna cita outros elementos que corroboram essa conclusão. Já foi construído um canal que liga o Porto de Pecém à represa do Castanhão, que vai receber as águas do São Francisco. “Para quê? Estão construindo uma siderúrgica em Pecém, a Ceará Steel, que sozinha consome tanta água quanto um município de 90 mil habitantes”, cita ele. Já André Monteiro lembra que ao longo dos canais, existem 160 sistemas de abastecimento de água de comunidades urbanas que estão a cinco quilômetros de cada margem. “Se houver uma comunidade a seis quilômetros, ela não vai receber água. E a população difusa, espalhada pelo interior, não tem nem compromisso [do governo] de que vai acessar essa água”, diz.
A região Nordeste enfrenta a maior crise hídrica de sua história. A estiagem, que já dura seis anos, é potencializada pela falta de planejamento e uso predatório do recurso natural. “O que está acontecendo hoje? Quando se constrói uma grande represa no Nordeste, a primeira coisa que se faz é uma irrigação desenfreada no seu entorno. Vazamentos acontecem e ninguém liga. Além disso, a demanda cresce: há 10 anos, a represa do Boqueirão abastecia Campina Grande e oito municípios. Hoje ela abastece 18 municípios além de Campina Grande. Boqueirão está com 2% apenas. Campina Grande está sendo atendida por frotas de caminhão pipa”, lamenta Suassuna. Em meio a tudo isso, a solução apresentada é trazer água do São Francisco. “Mas essa água vem de uma parte do rio que também já está praticamente seca. E quando chegar à represa, ela vai continuar sendo mal gerida”, aponta ele, que defende que o governo faça um levantamento das demandas de água para beber na região que está recebendo as águas da transposição e também ao longo da Bacia do São Francisco para que se saiba exatamente qual volume do rio pode ser liberado em segurança. “Sem isso, podem estar levando um volume muito maior do que a capacidade que o rio tem de fornecê-lo. É possível que já estejam cobrindo um santo e descobrindo outro”.
Falar em água no São Francisco exige um olhar sistêmico que enxergue não apenas o rio, mas o aquífero que existe embaixo dele, as lagoas, os afluentes, a vegetação nas encostas. Desde as nascentes à foz, o rio sofre há décadas um processo de degradação agravado desde o final dos anos 1970 pela expansão do agronegócio para o oeste baiano, ponta de lança da fronteira agrícola conhecida como Matopiba, que abarca ainda Maranhão, Piauí e Tocantins. O aquífero Urucuia é responsável por mais da metade das vazões de base do rio São Francisco que chegam a Sobradinho. “Quando chove, graças à vegetação nativa a água infiltra e forma lençóis freáticos no subsolo e há um fluxo de água desses lençóis para a calha do rio São Francisco, que a gente chama de vazões de base. Esse fluxo acontece constantemente a centímetros por dia. O que está fazendo o pessoal do agronegócio? Estão cavando poços profundos e captando água diretamente do aquífero para abastecer sistemas de alto consumo, caso dos pivôs centrais de irrigação. Um pivô central pode consumir algo em torno de 2,6 mil m3 por hora. Numa região em que o fluxo d’água está acontecendo a centímetros por dia, retirar 2,6 mil m3 por hora faz com que essa vazão de base fique reduzida, ela chega ao ponto de interromper”, explica Suassuna.
“O aquífero Urucuia é o que mantém o São Francisco vivo. Ele existe graças à cobertura vegetal nativa, que é o cerrado. O cerrado brasileiro é essa grande esponja, como se fala, que abastece oito bacias hidrográficas. Mas graças ao agronegócio, o cerrado só tem atualmente 40% de cobertura vegetal, ou seja, já destruímos 60% e é por isso que alguns especialistas falam na ‘extinção inexorável do São Francisco’ [a tese é de um grupo de mais de 100 pesquisadores que fizeram um estudo coordenado pela Universidade Federal do Vale do São Francisco]. Porque sem a cobertura vegetal, não tem alimentação dos aquíferos, aí você tem uma redução da vazão. Além disso, o solo sem vegetação produz o carreamento dos sedimentos para o rio causando o assoreamento”, alerta, por sua vez, André Monteiro.
A redução do volume de água aumenta a poluição das águas do Velho Chico. O projeto da transposição previa fazer tratamento sanitário. Uma Caravana de Saneamento promovida pelos ministérios públicos estaduais da Bahia, Sergipe e Alagoas percorreu 14 cidades da bacia do São Francisco que receberam obras. Os promotores notaram que o saneamento era uma das principais variáveis em termos de degradação e que a maioria dos municípios da região não tinha plano de saneamento básico. “Nenhuma estação de tratamento de esgoto está funcionando e até aterros sanitários que foram construídos tinham se transformado em lixão. Do ponto de vista da revitalização, o impacto foi nulo até o momento”, diz Monteiro, que participou de algumas caravanas.
O foco do pesquisador da Fiocruz, no entanto, é o impacto que as obras tiveram nas vidas das pessoas. “Grandes empreendimentos produzem experiências coletivas muito violentas. Afetam o meio ambiente, as terras, os meios de produção e os modos de vida, produzindo perdas materiais e simbólicas que, em geral, levam a sofrimento e agravos. Alcoolismo, depressão, abuso de drogas, prostituição. Diversos grupos e territórios têm sofrido em decorrência das obras da transposição. São indígenas, quilombolas e pequenos produtores. É importante entender que há conflito mesmo entre as pessoas que estão recebendo as obras. É uma coisa da qual pouco se fala”, sublinha Monteiro. A etapa atual do estudo é acompanhar os conflitos por essas águas. “Já tem invasões de terra. Por exemplo, empresários de Floresta [PE] interessados na produção de celulose estão em conflito com indígenas cujo território fica ao lado de um dos canais”.
Não por acaso, a água tem sido o epicentro de uma escalada de violência no país. O relatório ‘Conflitos no Campo Brasil 2016’, divulgado em abril pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), aponta que entre 2015 e 2016, as disputas por água aumentaram 27%, somando 172 casos. Desde que começou a registrar os dados, em 2007, a CPT calcula um aumento de 97,7% nesses embates, que estão atingindo cada vez mais pessoas. Em 2007, foram 164 mil. Em 2016 esse número saltou para 222 mil, um acréscimo de 35,8%. A CPT conclui que o cenário conflagrado é um desdobramento de duas lógicas de gestão, apropriação e uso da água: a econômica, que enxerga a água como commodity, e a dos povos, que têm na água um bem essencial à reprodução das condições dignas de vida.
“A grande diferença do Brasil no mundo é sua biodiversidade e suas águas. Nós temos biomas riquíssimos que são celeiros produtores de água. Estudos mostram como a floresta amazônica produz chuva e como o cerrado produz água. Mas a partir da inserção subordinada do país na economia mundial, nossa prioridade passou a ser produzir commodities: carnes, grãos, celulose, minérios. Estamos queimando, vendendo barato os nossos biomas e as nossas águas. É preciso rever urgentemente esse modelo”, defende André Monteiro. “Água, daqui para frente, tem que ser considerada uma questão de segurança nacional. Utilizar pivô central para produzir soja e esquecer que tem gente com sede é o mesmo que decretar o sacrifício do povo em nome do superávit”, conclui João Suassuna.
Mudanças no marco legal
De uma forma ou de outra, tanto as privatizações do saneamento quanto as apropriações da água pelo poder econômico convergem para um processo pouco conhecido que está em curso no país. Se a venda das companhias estaduais ou a concessão dos canais da transposição são as facetas visíveis da agenda federal, também faz parte dela uma face mais oculta: a flexibilização do marco legal que regula o setor. Sob a liderança da Casa Civil, o governo Temer defende uma série de mudanças normativas que visam garantir uma maior participação da iniciativa privada na prestação de serviços de água e esgoto. A movimentação mira a Lei do Saneamento (11.445), que completou 10 anos em janeiro de 2017.
Apesar de noticiar em seu site duas reuniões ministeriais feitas em outubro passado para debater ‘propostas para o saneamento’ e de confirmar à Poli a intenção de rever o marco legal, a Casa Civil não disponibiliza detalhes sobre essas alterações. Foi graças ao vazamento de uma apresentação intitulada ‘Diagnóstico Saneamento’, com a data de 14 de setembro, que associações profissionais e movimentos sociais congregados na Frente Nacional pelo Saneamento Ambiental entraram em contato com o teor e a extensão da revisão.
Em sintonia com o PPI – que, não por acaso, foi lançado também em setembro –, o diagnóstico da Casa Civil fala em um “mercado de saneamento” que deve ser franqueado ao setor privado por meio de concessões, abertura de capitais e parcerias público-privadas para a construção e operação das redes de abastecimento e tratamento de água, esgoto e também resíduos sólidos. Para viabilizar as parcerias, cita a criação de linhas de crédito especiais para investimentos em saneamento no BNDES e na Caixa Econômica Federal.
O documento aponta a intenção de quebrar outras barreiras, como a lei dos consórcios públicos (11.107/05) que, segundo o texto, “favorece a assunção dos contratos por empresas públicas” e “dificulta a entrada de empresas privadas no mercado do saneamento”. E centra fogo em um dos principais resultados da Lei do Saneamento: o Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab). Feito pelo governo com a participação da sociedade, o Plansab é considerado na apresentação da Casa Civil um “plano panfleto”, “focado em investimentos públicos” do PAC e “sem participação relevante da iniciativa privada”.
“O Plansab foi uma vitória. Ele estabelece o planejamento em todas as instâncias de governo e sua elaboração deve ser feita com participação da população. O Plansab não se manteve numa lógica tecnicista e apontou que o saneamento exige ações estruturais, que são as obras, mas também ações estruturantes, que são a gestão participativa e a educação que dão sustentabilidade aos sistemas. Sem isso, as intervenções de saneamento são condenadas à má operação e a uma dissociação com o cotidiano da população. E isso ainda está em curso, não pode retroagir, então qualquer alteração na Política sem consulta pública significa desmonte”, critica Alexandre Pessoa.
De fato, a sociedade civil não consta da lista de interlocutores ouvidos pela Casa Civil para propor essas e outras mudanças. O ‘Diagnóstico Saneamento’ fala em reuniões com as seguintes entidades: Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento (Aesbe), Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes), Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Água e Esgoto (Abcon) e Instituto Trata Brasil. Este último tem entre seus apoiadores empresas como Aegea, Braskem, Tigre, Amanco, Coca-Cola.
Em nota enviada à Poli, a Casa Civil confirmou que as modificações que vem discutindo passam pela necessidade de alteração da legislação relacionada ao saneamento básico. O governo não respondeu a perguntas feitas pela reportagem a respeito das críticas feitas às privatizações no saneamento, nem deu detalhes sobre o cronograma de revisão do marco legal. A pasta se limitou a dizer que “a partir da constatação da situação do atendimento à população em saneamento básico no Brasil e dos indicadores nacionais em termos de acesso à água tratada, esgotamento sanitário, coleta de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais (...) ouviu um amplo conjunto de atores do setor” e “elaborou um diagnóstico contemplando os principais entraves identificados para garantir o acesso da população aos serviços” e “buscar a sua universalização assim como a melhoria na qualidade da prestação dos serviços públicos”. Ainda segundo a nota, após a apresentação e validação do diagnóstico, foi constituído um Grupo de Trabalho interministerial que conta com a participação do BNDES e da Caixa.
Também em janeiro, a Lei das Águas (9.433) completou 20 anos. Ao longo do mês de março, quando se comemora o Dia Mundial da Água (22/03), foram pipocando notícias sobre alterações na legislação que deixaram os movimentos sociais em estado de alerta. O presidente da ANA, Vicente Andreu, garante, no entanto, que “não se trata de um processo de revisão” e a proposta é identificar lacunas para aperfeiçoar a Política Nacional de Recursos Hídricos. “Não tem nada a ver com a questão da mudança da lei de saneamento, muito menos com a questão da privatização”, disse ele à Poli, emendando: “Não tem nenhuma discussão de que a água vai ser um bem privado. Nenhuma relação de uma questão com a outra, a não ser a coincidência no calendário”.
O Banco Mundial foi convidado para participar da avaliação da Lei de Águas pela ANA e integra o grupo que inclui ainda a Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente. Segundo Andreu, a participação do Banco se dá no âmbito de um programa da Agência chamado ‘Diálogos’, voltado para a realização de diagnósticos. Ainda de acordo com ele, a discussão acontece até novembro desse ano. Os resultados serão apresentados no 8º Fórum Mundial da Água, que será realizado em março de 2018 no Brasil, evento que, segundo o presidente da ANA, motivou a revisão. “Nós entendemos que é o momento propício para se fazer essa discussão. O evento pode servir para conseguir apoio no Congresso, já que uma boa parte [das mudanças] pode exigir uma nova legislação a respeito, um aperfeiçoamento da legislação”, diz Andreu.
Líquido e certo
O Brasil detém as maiores reservas de água doce do planeta. Tanto na superfície, com seus rios e lagos, quanto embaixo da terra. Em 2013, pesquisadores da Universidade Federal do Pará descobriram o Saga, sigla para Sistema Aquífero Grande Amazônia, principal reservatório subterrâneo de água do mundo. O subsolo do país abriga também o segundo maior manancial, o conhecido aquífero Guarani, que volta e meia aparece, em boatos na internet, sob ameaça de privatização do governo federal. A ANA esclareceu à Poli que os aquíferos são bens dos estados, que podem outorgar a captação de água a empresas, como acontece no oeste baiano. “Para que o poder Executivo conceda a exploração de águas subterrâneas à iniciativa privada, seria necessário a aprovação de uma emenda constitucional pelo Congresso”, disse a Agência em nota.
“O uso privado de água subterrânea no Brasil já existe. Agora, privatizar um aquífero, ou seja, você vender aquele volume de água para um terceiro, não é permitido. O que você pode fazer é estimular o uso privado, inclusive, por empresas estrangeiras. Vivemos um momento de expropriação dos recursos naturais e a água é um desses recursos”, sita Otávio Leão, professor de hidrologia da Universidade do Rio de Janeiro (Uerj). Seja para engarrafar água mineral, seja para produzir commodities, ele explica que a água é estratégica para a circulação de bens no capitalismo global. “E o Brasil tem muita água. Quando o Brasil está exportando soja, carne, enfim, as commodities de modo geral, na verdade é a água que possibilitou aquela produção. Então, por exemplo, a China economiza a água dela porque ela importa grãos do Brasil. A mesma coisa a Europa e vários países do mundo. Ou seja, quando o Brasil exporta a sua safra agrícola, que é recorde, ele está exportando a sua água. A água brasileira produz mercadorias que têm valor e são comercializadas no mercado global”.
A expectativa dos movimentos sociais cresce na medida em que se aproxima a 8a edição do Fórum Mundial da Água. Será a primeira vez que o evento acontece na América Latina. “O Fórum é dos abutres que querem se apropriar dos bens comuns”, afirma Oscar Oliveira, liderança da Guerra da Água que aconteceu em Cochabamba na Bolívia no ano 2000. O episódio, conhecido no mundo todo, serve como síntese do curto-circuito gerado pela entrada da lógica econômica na gestão do recurso natural. Isso porque o contrato que concedia à empresa Águas de Tunari – consórcio que tinha entre seus acionistas multinacionais – a operação do sistema de água e esgoto permitiu à empresa um aumento de 100% na tarifa. Além disso, o poder público simplesmente proibiu a população de captar água da chuva, deixando sem alternativas milhares de camponeses.
“Acredito que o processo de privatização no Brasil é similar ao de Cochabamba. O Banco Mundial impôs a privatização da água na Bolívia como condição para conceder um empréstimo de US$ 160 milhões para que o governo boliviano pagasse dívidas. Essa conduta continua. É uma forma muito dissimulada de impor à população a venda de um patrimônio público para pagar dívidas que o povo não contraiu”, comparou Oliveira, que participou em março de eventos contra a privatização da Cedae, no Rio. Para ele, o fato de o Brasil sediar o Fórum significa um grande desafio, na medida que é cada vez mais necessário visibilizar as lutas contra as transnacionais da água e do saneamento e as políticas privatistas. Ao mesmo tempo em que o evento oficial acontece, os movimentos sociais estão planejando um fórum paralelo para pautar as discussões da sociedade e denunciar as propostas empresariais.
“O Fórum é o atacadão da água doce. O mundo inteiro virá aqui fazer lobby e pressão. E ano que vem teremos eleições acontecendo com todo esse pano de fundo dos obstáculos ao financiamento privado de campanhas. Minha aposta é que eles vão jogar pesado para alinhar candidatos do Legislativo e do Executivo aos interesses deles”, diz Luiz Roberto Moraes, que alerta: “Esses grupos de fora estão chegando e se associando a grupos daqui com uma agenda: ampliar e dominar o mercado. Aí você bota à venda 18 companhias estaduais de água e esgoto. Esses grupos vão ver o que tem de filé mignon em cada uma delas, pegar os municípios rentáveis e deixar os deficitários para trás. E que deles se ocupem o poder público”. O pesquisador caracteriza o cenário como preocupante: “É um desastre porque o público não tem mais aquelas cidades que dão lucro e fazem o equilíbrio financeiro porque elas foram para a mão dos grupos privados. Vai ser um prejuízo líquido e certo para a sociedade brasileira, e quem está no poder não está nem um pouco preocupado com isso”.