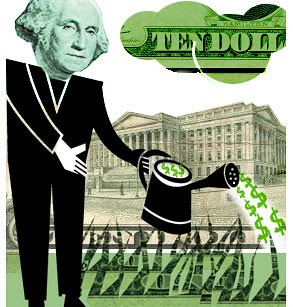por Bianca Diele da Silva, no Heinrich Böll Stiftung Brasil
(publicado originalmente aqui em julho de 2017)
A questão da água no Brasil tem se tornado central nas discussões atuais. Como um país que possui 12% de toda a reserva de água doce do mundo pode estar exposto a um cenário de escassez? O caso da redução de chuvas na região sudeste foi apontado pelos gestores como um fato que desencadeou a redução drástica nos níveis dos reservatórios. No entanto, pouco se falou sobre o desmatamento das bacias hidrográficas, da poluição derramada todos os dias nos nossos rios inviabilizando seu uso para abastecimento humano ou do uso e desperdício dos setores agrícolas e industriais. Um exemplo desses outros graves fatores que contribuem para a escassez de água é o crime de Mariana, que deixou municípios inteiros sem este recurso.(publicado originalmente aqui em julho de 2017)
Será que estamos aprendendo com isso?
Não é só o setor minerário, responsável pelo desastre de Mariana, que oferece riscos a oferta de água no país.
Com as recentes descobertas e início de exploração do pré-sal, o Brasil tem aprofundado a dependência das fontes fósseis de energia como projeto de desenvolvimento. Em setembro de 2013, a Agência Nacional de Petróleo (ANP) anunciou a 13ª rodada de concessão de lotes para a exploração de gás natural de fontes não convencionais. Dentre estas fontes não convencionais está o gás de folhelho, popularmente conhecido como gás de “xisto” (shale gas em ingles).
Para a exploração deste gás é utilizada uma técnica chamada de fraturamento hidráulico de alta pressão, ou fracking, que utiliza quantidades enormes de água e gera um volume grande de efluentes. Estes efluentes possuem uma mistura de produtos químicos altamente tóxicos, areia, além de materiais radioativos carreados do subsolo. Isto, por si só, já seria um problema considerável, mas some-se o fato de que as fraturas podem alcançar corpos de água subterrâneos como os aqüíferos, contaminando-os com esta mistura.
Os Estados Unidos foram os precursores no uso comercial desta técnica. Por isso, em setembro de 2015, a Fundação Heinrich Böll, em parceria com outras organizações, realizou, naquele país, a Fracking Tour, cujo objetivo foi conhecer as áreas já exploradas através desta técnica e saber como a polêmica extração de petróleo tem envolvido os movimentos ambientalistas e de direitos humanos. Participaram da atividade países que já possuem áreas de extração via fracking como Argentina e México, bem como aqueles que vêm sofrendo pressões para iniciá-las, como Brasil, África do Sul, China, Irlanda, Alemanha e Chile. E eu fui convidada a participar desta atividade como representante brasileira nas discussões.
Nos Estados Unidos, graças ao lobby desta indústria, os empreendimentos que se utilizam desta técnica não precisam se enquadrar nos marcos regulatórios ambientais que protegem os recursos hídricos e o ar. Conseqüentemente, os poços de água potável das habitações próximas aos locais de exploração foram contaminados sem as devidas medidas de controle e mitigação. Durante a atividade foram visitadas algumas casas na zona rural do estado da Pensilvânia, onde além dos poços contaminados, registraram-se relatos de animais que morreram por terem bebido a água e de pessoas com problemas respiratórios e de pele, com medo de terem sido contaminadas. Os profissionais de saúde não têm acesso a informações sobre as composições dos fluidos que estão impactando na saúde dos residentes.
A atividade da exploração, que se intensificou consideravelmente nos últimos dez anos, não atingiu só o meio ambiente, mas também a saúde das pessoas, os seus modos de vida e a relação entre os indivíduos e as instituições governamentais que deveriam garantir o seu direito a um ambiente saudável. Alguns moradores que resolveram denunciar esta situação sofrem represálias da indústria como processos judiciais e intimidações. Para um país orgulhoso de sua democracia e liberdade de expressão, isto é um retrocesso.
Deixamos esta região com a certeza que os impactos são muito maiores do que os descritos nos artigos, e que o acordo entre a indústria e o governo para o avanço do uso desta tecnologia sem os devidos controles foi muito danosa para a sociedade como um todo. Não foi à toa que, no Brasil, os cientistas solicitaram que mais estudos fossem realizados para avaliar os impactos potenciais antes da aprovação do uso do fracking. Mesmo assim o governo Dilma liberou o leilão e ainda fez uma regulamentação (ANP 21/2014) sobre o tema que deixa os corpos d’água ainda mais expostos pela adoção de parâmetros aleatórios de controle de linha de base da qualidade da água, que não condizem com a composição dos fluidos utilizados.
Mas nem tudo está perdido. Na segunda parte da nossa visita pudemos conhecer como o estado de Nova Iorque, onde também há reservas de gás de “xisto”, baniu a utilização desta técnica baseado em estudos científicos que contaram com uma avaliação criteriosa de profissionais ambientais e de saúde. Muitas organizações ambientalistas, de saúde e de direitos humanos conseguiram levar a discussão para a população, sensibilizando-a para a importância de não repetir o que estava acontecendo no estado vizinho.
Foi uma mobilização longa que começou com discussões, depois pela definição de uma moratória até que mais estudos e mais dados fossem analisados, e finalmente pelo banimento em junho deste ano. Na ocasião da nossa visita, em setembro, o movimento contra o fracking da região estava feliz e aliviado, mas continuavam atentos nos desafios de se manter o banimento e de ampliar esta discussão para que ninguém tenha que ser exposto aos riscos; inclusive os países que vem sofrendo pressões para aderir a essa prática ou que, como no caso do México e da Argentina, já possuem campos de exploração deste tipo.
A troca e atualização das informações foi essencial para o entendimento da importância das resistências a esta nova ameaça e de como podemos fomentar a discussão nos nossos países. Também é importante fortalecer as estratégias comuns já existentes, como no caso da “Alianza Latinoamericana Frente al Fracking”. Na América Latina, descobrimos que temos muito em comum, tanto na forma que os governos estão atuando para a introdução do fracking por meio de um discurso que minimiza os riscos e supervaloriza os benefícios, como por um anseio das populações dos territórios atingidos e ameaçados por respeito ao seu direito de dizer não.
As questões da água são centrais nesta disputa. No Brasil esta já adentrou o campo jurídico por meio de várias ações civis públicas, e algumas delas conseguiram a suspensão do plano de iniciar o uso do fracking em algumas bacias. Além disso, iniciou-se um movimento dos municípios com a declaração de municípios Livres de fracking. Além disso, iniciou-se um movimento dos municípios com a declaração de municípios Livres de fracking como Toledo e Cascavel no Paraná.
Sabemos que esta será uma luta longa e que temos que trabalhar para a ampliação da discussão com a sociedade como um todo, mas acreditamos que o povo brasileiro, que sempre valorizou e cultivou suas águas saberá tomar a melhor decisão sobre esta questão se lhe for dado este direito.
Para quê um país com tanto potencial para energias renováveis optaria por uma tecnologia tão controversa? Com a descoberta e exploração do pré-sal, devemos ampliar ainda mais a nossa dependência de fontes fósseis de energia? Se temos que mudar, como já foi tantas vezes repetidos pelos especialistas do clima, por que não começamos agora? Por que colocar os nossos aquíferos que estão entre os maiores e de melhor qualidade do mundo em risco?
Por que ampliar os conflitos de água com a inclusão de mais uma indústria de uso intensivo de água e com alto potencial poluidor? Pela segurança das nossas águas e das nossas vidas, fracking não.